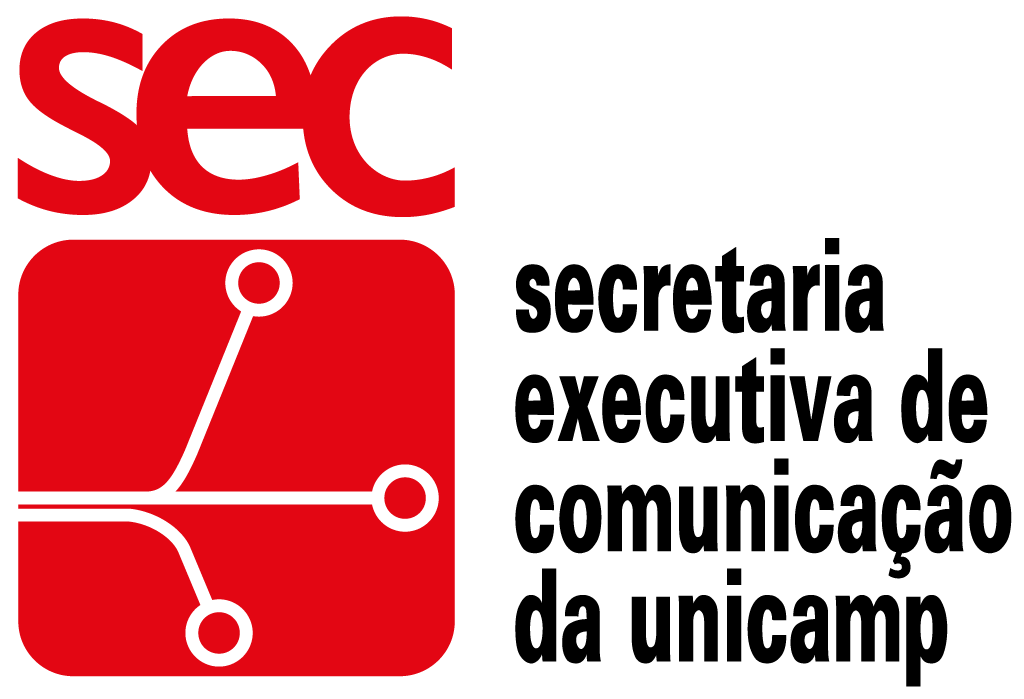Meio ambiente
Luiz Marques
Boiada passou e foi tocada para o ‘maior pasto do mundo’
De slogan da ditadura à fala do ministro bolsonarista Ricardo Salles, país perdeu cerca de 2 milhões de km2 de vegetação nativa
Marta Avancini
O dia 9 de outubro de 1970 é um marco no processo de destruição da Amazônia. Nessa data, o terceiro general a governar o Brasil durante a ditadura militar, Emílio Garrastazu Médici, descerrou uma placa, afixada no toco de uma castanheira, na qual se lia: “Nestas margens do Xingu, em plena selva amazônica, o sr. Presidente da República dá início à construção da Transamazônica, numa arrancada histórica para a conquista deste gigantesco mundo verde”.

Passados pouco mais de 50 anos, a perda de vegetação nativa na Amazônia por corte raso (extração de todas as ou da maioria das árvores em uma determinada área) soma 825,9 mil km², uma área equivalente ao território ocupado pelos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Estima-se que cerca de 20% da floresta já tenha desaparecido, principalmente no chamado arco do desmatamento, que começa no Maranhão, atravessa o norte do Mato Grosso e termina em Rondônia.
“Todo mundo sabe que o Brasil foi o último país a decretar o fim da escravidão, mas as pessoas raramente se dão conta de que o Brasil é o país que mais destruiu a natureza em termos de intensidade”, observa Luiz Marques, historiador e professor livre-docente aposentado do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp.
O cerrado e a caatinga também foram palcos desse processo de destruição nas últimas cinco décadas, somando cerca de 1,4 milhão km² desmatados. “Em nenhum momento na história da humanidade, um país destruiu 2 milhões km² de vegetação nativa em 50 anos. Pelo contrário, da década de 1970 para cá, a Europa e os Estados Unidos tiveram um volume menor de destruição, porque houve muita restauração”, detalha o historiador.
“Agora, no Brasil, observa-se uma espécie de trator que passou por cima do país. Um quarto do país desapareceu. Hoje o colapso se aproxima dos três maiores biomas do Brasil: a Amazônia, o cerrado e a caatinga”, analisa Marques, que é autor de O decênio decisivo – propostas para uma política de sobrevivência, uma de suas obras que analisam o colapso ambiental do planeta.
A intensidade e a velocidade de destruição da vegetação nativa no país tiveram como ponto de partida a visão desenvolvimentista da economia, que resultou no chamado “milagre econômico” (1969 a 1973), em meio a um ambiente ufanista alimentado também pela conquista da terceira Copa do Mundo de futebol, em 1970, no México. Era o tempo do “Brasil, ame-o ou deixe-o”, em meio aos casos de prisão arbitrária, tortura e assassinato legados pelo governo Médici à história.
Esse, porém, não foi o único slogan a traduzir o espírito da época. Como conta Marques, a ideia de destruir a natureza – na esteira do desenvolvimentismo – passou a ser amplamente disseminada pela propaganda oficial. Citando um estudo do botânico e paisagista Ricardo Cardim, o pesquisador chama atenção para a retórica de guerra adotada no trato com a floresta, que deveria ser vencida e transformada em oportunidades de negócio.

“Toque sua boiada para o maior pasto do mundo” era o slogan de uma propaganda da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) de dezembro de 1971. No ano seguinte, um anúncio da mesma Sudam, com o patrocínio do Ministério do Interior e do Banco da Amazônia, na revista IstoÉ Amazônia, dizia: “Chega de lendas. Vamos faturar. Muitas pessoas estão sendo capazes, hoje, de tirar proveito das riquezas da Amazônia. Com o aplauso e o incentivo da Sudam. O Brasil está investindo na Amazônia e oferecendo lucros para quem quiser participar desse empreendimento. A Transamazônica está aí: a pista da mina de ouro. […] Há um tesouro à sua espera. Aproveite. Fature”.
Para Marques, textos como esses traduzem a ambição que unia os militares e o grande capital e cujo resultado inexorável foi a destruição. Uma destruição limitada não apenas à vegetação e à fauna, mas que atingiu também os povos originários: pelo menos 8.300 indígenas foram mortos somente durante a construção da Transamazônica.

“Essas são mortes claramente documentadas, irrefutáveis. Na verdade, o número é muito maior”, diz o historiador. A afirmação se baseia em dados da Comissão Nacional da Verdade (CNV), segundo a qual o número real de indígenas mortos no período “deve ser exponencialmente maior, uma vez que apenas uma parcela muito restrita dos povos indígenas afetados foi analisada e uma vez que há casos em que a quantidade de mortos é alta o bastante para desencorajar estimativas”. O livro Os fuzis e as flechas, do jornalista Rubens Valente, documenta bem essa matança.
O pano de fundo de todo esse processo, para Marques, é uma visão de mundo pautada pela guerra, algo típico dos militares – e que persiste até hoje no bolsonarismo. “Trata-se de uma mentalidade redutora, deficiente e deformadora do mundo, pois o vê sob o ângulo da guerra entre os homens e, sobretudo, entre esses e a natureza.”
Essa visão explica a ideia de que a floresta pode ser ocupada (e destruída) indiscriminadamente, seja no contexto da construção da Transamazônica, como na época da ditadura, seja no cenário dos recordes de desmatamento registrados durante o governo de Jair Bolsonaro, algo resultante, entre outros fatores, do relaxamento da fiscalização: só em 2021, foram derrubados 13 mil km² de floresta, o maior volume anual em 15 anos.
“A visão de mundo do bolsonarismo é a mesma dos militares. Como enxergam o mundo e a vida pela perspectiva da guerra, têm uma ótica completamente desfigurada e, portanto, não percebem que existe uma relação possível de harmonia entre o homem e a natureza”, acrescenta Marques, lembrando que, segundo pesquisas atuais, a floresta foi ocupada pelo menos 20 mil anos atrás por povos que estabeleceram uma relação harmônica com o bioma.
Essa perspectiva de mundo resultou na guerra não declarada contra os indígenas e vem resultando na transformação de parte significativa da floresta em pasto. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui mais de 220 milhões de cabeças de gado. “Esse é o maior rebanho de gado do mundo. É maior que o da Índia. E boa parte dele está na Amazônia hoje”, diz o historiador.
Ou seja, a persistência dessa visão de mundo pautada pela guerra explica a aceleração da destruição, a matança de indígenas e o avanço da criminalidade na Amazônia durante o governo Bolsonaro. “Trata-se de um processo idêntico [àquele verificado na ditadura], e os bolsonaristas assumem isso. Eles não consideram uma ofensa serem comparados com os militares da época da ditadura. Pelo contrário, eles dizem que são exatamente o retorno daqueles militares. Eles reivindicam esse saldo mortífero”, analisa Marques.

Para o historiador, o que acontece hoje, no entanto, pode ser considerado mais grave. “Naquela época, o mundo estava na Guerra Fria, portanto havia uma ideia de geopolítica, de alinhamento automático dos militares na área de segurança nacional com os Estados Unidos. Em 2018, quando Bolsonaro foi eleito, e no período dele, de 2019 a 2022, não havia nenhuma razão para se pensar em termos de uma geopolítica da Guerra Fria”, lembra.
Assim, a explicação para esse fenômeno, na opinião do pesquisador, reside nos interesses econômicos, tendo como pano de fundo uma visão de mundo orientada para a destruição. “Sob Bolsonaro, um conjunto de populações indígenas no Pará e também no Mato Grosso foram agredidas e massacradas porque o agronegócio percebeu não haver mais freios institucionais que o coibisse”, analisa Marques. O afrouxamento da fiscalização, evidenciado, por exemplo, na queda do número de multas, criou um clima de “liberou geral”, diz.
Nesse sentido, ele chama atenção para a interação e as interfaces existentes entre os negócios lícitos e os ilícitos. “É muito interessante perceber que há uma continuidade entre o grande negócio (a mineração, o agronegócio, a soja, os grandes grupos frigoríficos, a criação de gado, esses grupos que têm um CNPJ) e o crime organizado. Porque quando o fazendeiro compra a terra para expandir o seu negócio, geralmente ele compra do grileiro, que é um criminoso do ponto de vista da lei.”

O grileiro, por sua vez, ocupa uma terra que passou pelo processo de degradação. “Depois que a madeira é retirada e vendida e as pessoas já lucraram com a floresta, o que resta? Resta pôr fogo nos remanescentes da floresta, pois o fogo é a maneira mais barata de criar pasto”, descreve Marques. “Então, esse processo começa com a degradação, passa pelo fogo e chega à grande propriedade rural.”
Para o historiador, a partir do Bolsonaro, configurou-se claramente uma ameaça para, em certa medida, uma perda do controle institucional sobre a Amazônia. “A presença do Estado na Amazônia é cada vez mais desafiada pelo crime organizado, algo muito funcional para o agronegócio: quanto menos Estado, quanto menos lei houver ali, melhor para os ‘meus negócios’”, complementa.
Além de em danos ambientais, a crescente ausência do Estado e o avanço da criminalidade na Amazônia se traduzem na dizimação dos indígenas – foram 800 assassinatos e 3, 5 mil crianças de 0 a 4 anos mortas durante o governo Bolsonaro, de acordo com o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) – e na escalada da violência: entre 1980 e 2019, a taxa de homicídios na Região Norte cresceu 260,3%, ao passo que, na Região Sudeste, a taxa caiu 19,2%, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Assim, para Marques, a superação da mentalidade militarista e do paradigma do desenvolvimentismo é crucial para que o país – incluindo sua ala democrática e progressista – perceba a gravidade do quadro e atue de forma mais efetiva para mitigar as e criar estratégias de adaptação às crises ambientais que marcam o século 21.
Segundo ele, esse paradigma mostra-se tão forte no país que mesmo a esquerda alinha-se com alguns de seus pressupostos. “O Brasil é um dos países com a maior concentração de propriedade fundiária do mundo, e essa concentração só se acelerou durante os primeiros governos de [Luiz Inácio] Lula [da Silva]. Os dados são claros e mostram, por exemplo, um impulsionamento da abertura de pastagens na Amazônia naquele período, com a transferência do gado para o norte do Mato Grosso.”
O alinhamento com o desenvolvimentismo do século 20 é, afirma Marques, um traço perceptível da esquerda, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. Se isso era ainda compreensível no século passado, “agora a destruição acumulada desde 1970 adquiriu outra escala. Os biomas brasileiros e globais estão muito mais vulneráveis e mais próximos de pontos de não retorno, de modo que não se pode mais adiar uma revisão profunda dos paradigmas herdados do passado”.